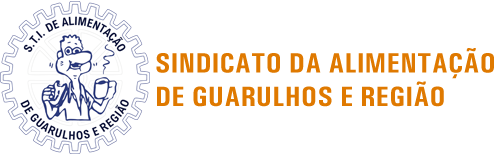Na avaliação de juízes e advogados, Corte Suprema atuou de forma indevida no caso do dissídio dos Correios
Trabalhadores e representantes da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) voltaram nesta semana ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), completando um ciclo de 10 meses que poderia ser evitado. A empresa não aceitou o julgamento do próprio TST, em outubro do ano passado, e apelou ao Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte alterou a sentença, em decisão criticada por observadores, entre juízes e advogados, que veem interferência contínua do STF em assuntos trabalhistas, em desacordo com o princípio da negociação coletiva.
Um juiz com atuação em São Paulo viu uma decisão essencialmente política do STF no caso dos Correios. Foi “muito inusual”, reforça um magistrado de Brasília, ao lembrar que se tratava de uma decisão colegiada da Seção de Dissídios Coletivos (SDC) do TST. “Isso acaba forçando situações. E não tem matéria constitucional”, acrescenta.
Em novembro, um mês depois do julgamento do dissídio, o presidente do STF, Dias Toffoli, deu liminar aos Correios. Com destaque para dois itens: plano de saúde e duração do acordo coletivo. O TST havia fixado essa duração em dois anos. No STF, Toffoli reduziu para um, o acordo venceu em 31 de julho (véspera da data-base) e a empresa pôde, sem negociação coletiva, mexer à vontade.
Limpar para privatizar?
Foram nada menos que 70 cláusulas, das 79 do acordo, alteradas ou abolidas. Segundo os Correios, 28 estavam previstas em legislação específica e 15 “extrapolavam” essa legislação. Outras 27 foram excluídas por orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), vinculada ao Ministério da Economia, por “necessidade de reequilíbrio do caixa financeiro da empresa”. Ou em tradução livre, para muitos: necessidade de preparar a ECT para privatização.
Na última sexta (21), o Supremo concluiu o julgamento do processo SL (Suspensão de Liminar) 1.264. Todos os ministros – com exceção de Celso de Mello, em licença médica – acompanharam Toffoli. A decisão frustrou os representantes dos trabalhadores, que esperavam ver restabelecido o acordo coletivo de dois anos. Ou seja, com as cláusulas válidas até 31 de julho do ano que vem, o que evitaria a greve, iniciada no dia 18.
Assim, o primeiro questionamento diz respeito à própria competência do STF para julgar o tema. Advogados e juízes consultados foram unânimes em dizer que não era caso para a Corte Suprema. Esse foi o posicionamento, inclusive, do procurador-geral da República, Augusto Aras, em parecer de 11 de maio. Segundo ele, o Supremo é ” incompetente para julgar incidente de suspensão que versa sobre questão infraconstitucional”. Como nessa situação.
Decisão cabia ao TST
Aras, por sinal, defendeu a cassação da liminar concedida à empresa. E foi claro em seu (desconsiderado) parecer: “Como se depreende do aludido julgado, toda a controvérsia foi solucionada com base em juízo de equidade, em normas coletivas preexistentes e em estudos realizados por comissão técnica do TST, não se travando, assim, debate constitucional”.
O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Cezar Britto, que representou a Associação dos Profissionais dos Correios (Adcap) no processo, reforça o argumento. E acrescenta que sentença normativa, como no caso dos Correios, é de competência exclusiva do TST.
Interferência de competência
“O TST, dentro da sua competência constitucional, estabeleceu regras de trabalho”, argumentou Brito. “Regras em que se analisa caso a caso como funcionam as condições de trabalho para o suscitante e para o suscitado (trabalhadores e empresa). Analisou faticamente a questão.”
Sobre o fato de o tribunal ter fixado em dois anos o período do acordo coletivo, o ex-presidente da OAB lembrou que a questão está prevista no artigo 868 da CLT. O parágrafo único faculta o prazo de vigência, que não poderá ser superior a quatro anos. “Optou pela metade”, observou o advogado, vendo no caso uma interferência de competência constitucional. Além disso, diz Britto, com sua decisão o STF desencadeou um processo de negociação coletiva “em plena pandemia, arriscando a vida dos trabalhadores”.
Contradição
A advogada Renata Cabral vê uma contradição nesse e em outros casos. Ela lembra que os defensores da “reforma” trabalhista implementada em 2017 (Lei 13.467) tinham dois argumentos básicos: criação de empregos, a partir de regras mais flexíveis, e segurança jurídica, com negociação direta entre as partes. Os empregos não vieram. A ECT não pratica a negociação coletiva e o STF embaralha tudo.
“O que os Correios fizeram no ano passado, na hora de negociar? Eles foram absolutamente inflexíveis na negociação”, diz Renata, lembrando que a ECT só aceitava renovar pequena parte das cláusulas. “Isso não é negociação. É uma imposição de força. A verdade é que os Correios se negaram a negociar”, afirma a sócia do escritório de advocacia Crivelli, que também defende o prazo de dois anos fixado pelo TST para a vigência do acordo coletivo.
“A nossa experiência mostra que, principalmente nos tempos atuais, essa validade de dois anos dá uma estabilidade bem razoável”, comenta Renata, citando o acordo nacional firmado em 2018 pelos bancários. “Foi muito positivo. Negociação não é trivial, demanda tempo, investimento, dinheiro, energia, Muitas vezes, a validade de um ano acaba sendo mais onerosa.”
Onde está segurança jurídica?
Dessa forma, enquanto o TST teve uma “decisão tranquila em termos de legalidade”, o STF surpreendeu ao conceder a liminar. “Que ele tivesse excluído algumas cláusulas ok, mas excluir a validade de dois anos não é razoável, especialmente no momento em que estamos hoje em dia. Essa decisão cria um caos. É um imbróglio jurídico em que você deixa os trabalhadores completamente à mercê de uma decisão da empresa”, observa Renata. “Onde está a segurança jurídica que prometeram? O que se tem feito é justamente trazer mais insegurança jurídica. O empregado dos Correios dorme um dia tendo um plano de saúde de um jeito, acorda no outro dia e isso não existe mais.”
Para ela, isso remete aos anos 1990, com muitas decisões trabalhistas judicializadas. “O ideal era que as partes negociassem entre si. O que tem acontecido agora, desde uns três anos, é essa cultura da não negociação, o que, aliás, é algo absolutamente contraditório”, diz ao lembrar da “bandeira tão falada” do negociado sobre o legislado.
A situação se torna mais grave quando se lembra que o princípio da ultratividade foi suspenso pelo próprio STF. Por esse princípio, as cláusulas permaneciam válidas até que houvesse renovação. Isso deixou os trabalhadores dos Correios sem acordo. E ameaça, por exemplo, os bancários, cujo acordo coletivo vence na próxima segunda-feira (31).
Perda de garantias mínimas
Para o advogado Luís Carlos Moro, o chamado sistema de freios e contrapesos dos poderes da República tem funcionado em algumas circunstâncias, como em direitos humanos mais básicos. Mas não é o que acontece em relação aos direitos sociais. “O Supremo tem se dedicado à supressão da jurisdição constitucional do TST”, critica o ex-presidente das associações paulista, brasileira e latino-americana de advogados trabalhistas.
Esse movimento de “dissolução de garantias mínimas” teria origem nas manifestações de 2013 – ironicamente, por direitos sociais. “Gerou um movimento político de extremo moralismo, que interferiu barbaramente no modo como o Direito Penal no Brasil foi visto e aplicado, na formação política dessa 56ª legislatura (da Câmara) na eleição presidencial…”
Direitos sociais esquecidos
Vieram a aprovação da lei da terceirização irrestrita – que, por sinal, o STF também aprovou – e uma “radical” alteração da legislação do trabalho em 2017, a ultratividade, o estabelecimento da “Justiça gratuita onerosa”. Conforme a definição de Moro: “É gratuita, mas se perder você paga”. E a pandemia, acrescenta, funcionou como uma espécie de “efeito suspensivo da Constituição”, permitindo acordos individuais em vez de uma obrigatória negociação coletiva. “Temos mais de 100 carteiros mortos pela covid, e os Correios dizem: não podem fazer greve.”
Ele constata que o Brasil pode ter perdido a noção do que são direitos sociais. “Infelizmente perdemos a consciência social”, diz. “Não há lógica no sistema, porque é um sistema que privilegia a permanência do estado litigioso e não a solução.” Assim como Renata, ele acredita que no caso da ECT o interesse privatista prevalece. “É um patrimônio que vai ser financeirizado pelo governo e pelo mercado, pouco importando seu papel social, sua relevância. Estamos vivendo uma fase de obscurantismo.”